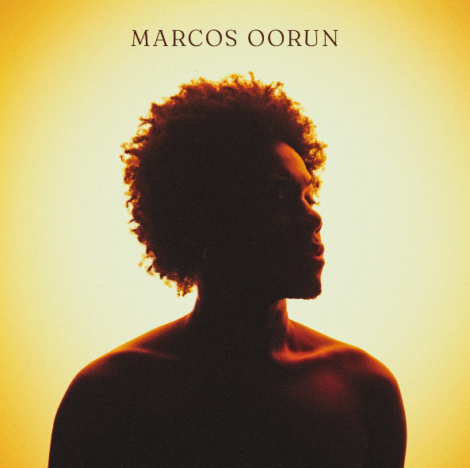Opinião
#PoesiaSoteroPreta – Teimosia é o nome dessa menina-poesia-preta, Fabrícia de Jesus!


O poema “Dor” foi o debut, a estreia de Fabrícia de Jesus. Escondido no final do caderno, estripulia de quem ainda não sabia que é poeta. Poeta de poesia preta, escrita em 2003 durante o cursinho pré vestibular no Instituto Cultural Steve Biko. A cumplicidade foi com a professora de Português, que lhe batizou poetisa, em 2013. Até então Fabrícia não se sabia escritora nem se compreendia negra. Foram duas descobertas fascinantes, libertadoras!
Este recorte racial, agora consciente, atravessa toda a sua produção, carrega as vivências, que é molhada de suor, labutas, abstratos expressos, cotidianos de quem sente a negritude em pele.
Na escrita, Fabrícia fala da alma, estampa a retina do seu terceiro olho, evoca os alvoroços de suas dúvidas, a complexidade das verdades questionáveis. A poesia desta menina-poeta é linha de partida; seus meios, seu chegar, seu fio de alta tensão, a arritmia do seu apanhador, do seu carrega-dor, do pulsante afagador que lhe guia. A poesia é sua fuga, sua busca; é ela mesma, poeta, empurrando as portas, as normas; se traduz em seus caminhos, os passos, os laços, os nós, a própria voz.
“A poesia tem o poder de unir gente, neste aspecto faz rima com família, já que nos fortalece, integra, identifica, nos torna pertencentes e usuários de mesmo corpo – língua”, afirma Fabrícia de Jesus.
Além de escrever nos ônibus, ela publicou no Sarau Brasil, Revista Quilombo e na coletânea “O Diferencial da Favela: Poesias e Contos de Quebrada” (Sarau da Onça, Editora Galinha Pulando), além de postar no Facebook.
E sobre a publicação, Fabrícia viaja: “acho que tenho mais escritos no busu do que publicados (rsrs), embora reconheça a importância de estar nestes impressos, visto que precisamos sair da posição de “estudados” para sermos sujeitos contadores e protagonistas de nossa própria história. Mas confesso que gosto de pensar que no coletivo, entre um destino e outro vários ‘eus’, viajam nas minhas curvas e linhas, em trânsito está a subjetividade das minhas poesias”.
A Menina-Poesia Soteropreta
Fabrícia de Jesus, mãe de uma linda e moleca menina, preta, suburbana, filha de uma família dominada por mulheres valentes, foi gerada por amor e criada nele. Já vendeu quiabos, já vestiu robalos, já passou maus bocados, e teve um período que sofria escondida, fase brusca da vida, outros tempos…
É estudante de Serviço Social, poetisa, ativista, parte do coletivo Sarau do Cabrito (pelo qual carrega uma enorme gratidão), membro do Coletivo de Entidades Negras–CEN, é feliz e desenvolve um trabalho na ONG E². É atravessante de mar para amar de perto, é o próprio verso, seja ele cortante em protesto ou doce feito riso rio. É uma errante encabulada que pede suco de acerola no bar e se embriaga sem nem sentir o pecado na boca.
É teimosa, às vezes engraçada, segundo os amigos. É desenfreada e fascinada pelos detalhes mais baratos, e repete pra si: “já que a vida é indefinida eu prefiro sentir”.
A Solidão é Preta
Como se não bastassem as mazelas excludentes erguidas pelas dimensões de direitos sociais negados, resguardados a nós diversos crivos psicoemocional. Somos perpassantes em construções machistas racistas. Somos assassinos e vítimas desta sociedade perversa.
A dor lateja, maltrata e adoece o corpo… Somos frutos da história. A poesia de raça única não declama-se diante um povo brutalmente violentado. Quanto mais negroide nossos traços quanto mais preta nossa pele, mais preterimento mais exclusão mais dor mais solidão.
Fomos sentenciadas ao celibato definitivo. A invisibilidade. Ao prazer momentâneo. Ao esquecimento. Aos danos. Aos danos.
Somos seres sem sermos, pedaços… Sobreviventes nestes 128 anos de alforria desencontrada, marginalizada. Fomos as estupradas para o nascimento do Brasil mestiço. Somos desumanizadas, confinadas ao encolhimento do corpo, ao silêncio da sala. Na frieza do colorismo, nos índices dos feminicídios, as tristezas não ficaram nas senzalas.
Na falácia que o amor não tem cor, a conta nunca bate exata, sobram as pretas, multiplicam-se as mágoas. Proclamaram que status é loira ao lado. Que peso. Que fardo… Gosto é construção social e o homem preto também fora submetido aos padrões eurocêntricos. Subjetividades agredidas. A solidão tem cor. Desconstruir é preciso. Se o amor faz bem… nós queremos também. Ficar só é normal… quando opcional. (Fabrícia de Jesus)

Poesia Soteropreta
Texto inaugural de Valdeck Almeida de Jesus para o espaço “Poesia Soteropreta”, que vai evidenciar, divulgar e fortalecer a Poesia Preta, Periférica e de Resistência do cenário literário de Salvador. O Espaço será alimentado semanalmente pelo escritor, pautando novos e novas soteropret@s que despontam na Poesia negra da cidade. Valdeck é escritor, poeta, jornalista, ativista cultural. Membro-fundador da União Baiana de Escritoress – UBESC e do Fala Escritor (2009).
Artigos
Parentalidades negras: Dói Gerar? – Por Aline Lisbôa

Aos 20 anos, ganhei minha primeira filha. Lembro que o meu maior desespero, naquele momento, não foi a maternidade em si, mas o medo de me tornar mais uma “guerreira”. Essa palavra, tantas vezes usada como elogio, sempre me soou como uma armadilha. “Guerreira” era o nome dado às mulheres negras que eu via à minha volta — sempre fortes, resilientes, mas quase nunca acolhidas. Mulheres que aprendiam cedo a engolir o cansaço e a transformar dor em sobrevivência.
Gerar uma menina preta, portanto, foi uma experiência marcada por aflições e esperança. Eu já tinha letramento racial suficiente para compreender que amar, dentro de um contexto desigual, iria me doer. Não porque o amor fosse escasso, mas porque amar uma criança negra em um país racista é um ato político — e, como todo ato político, carrega resistência e feridas.
Chorei e senti medo por longos nove meses. Idealizei a infância da minha filha e, inevitavelmente, revisitei as dores da minha. Cada contração parecia carregar também o peso das minhas histórias e de todas as meninas pretas que tiveram sua doçura interrompida cedo demais.
Mas a maternidade também me devolveu à criança viva que ainda existia dentro de mim. Quando minha filha sofreu seu primeiro episódio de violência racial, senti algo que nunca havia sentido antes: uma força ancestral que me empurrava a reagir. Era como se, naquele instante, eu fizesse as pazes com o silêncio imposto à menina que eu fui. Pela primeira vez, não calei. Escrevi, falei, denunciei. A maternidade, para mim, tornou-se um espaço de elaboração e cura coletiva.
A partir daí, passei a acreditar mais profundamente na potência transformadora do letramento racial nas famílias negras. É por meio dele que compreendemos o funcionamento do racismo estrutural e as relações desiguais entre pessoas negras e brancas — um sistema que atravessa as infâncias, molda oportunidades e define afetos. Educar uma criança negra sem esse entendimento é deixá-la vulnerável a uma violência que, muitas vezes, começa na escola, nas telas, ou no olhar do outro.
O letramento racial, portanto, não é um luxo intelectual: é uma ferramenta de sobrevivência e dignidade. Ele nos ajuda a nomear as dores, a identificar o racismo, e a responder a ele com consciência e estratégia — não mais com silêncio e culpa.
Lembro-me da matriarca da minha família, minha bisavó Celina. Mulher preta, sem estudos formais, mas dona de uma sabedoria que hoje reconheço como ancestral. Ela entendia, à sua maneira, o funcionamento do mundo e sabia como proteger seus filhos, netos e bisnetos. Sua forma de amor era também resistência. Celina não falava de “letramento racial”, mas vivia a prática da reexistência todos os dias — ensinando-nos a caminhar com dignidade mesmo quando o caminho era de pedras.
Hoje, quando olho para minha filha, percebo que gerar uma criança preta foi, acima de tudo, um ato revolucionário. Porque gerar, nesse corpo e nesse tempo, é também desafiar o projeto histórico que tentou nos apagar. E ser mãe/pai negros, com consciência racial, é transformar o medo em força, o silêncio em palavra, e o amor em luta.
Aline Lisbôa é mulher, negra, nordestina, mãe, educadora antirracista, consultora de diversidade, equidade e inclusão, pedagoga, psicopedagoga e pesquisadora, além de articulista e escritora. Seu livro “Quantos sim cabem em um não” está disponível AQUI.
Opinião
Trançar é trabalho: o reconhecimento oficial é vitória, mas a luta continua

Em junho de 2025, o Brasil deu um passo histórico: a profissão de trancista foi oficialmente reconhecida na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), sob o código 5193-15. Isso significa que o Estado, através do Ministério do Trabalho e Emprego, reconhece, de forma tardia, que trançar cabelos é ofício, é arte, é cuidado, é economia viva. E mais do que tudo isso: é trabalho.
O reconhecimento representa uma conquista fundamental para milhares de mulheres, em sua maioria negras, que sustentam suas casas e comunidades com as mãos, os fios e os saberes ancestrais que atravessam gerações. Trata-se de uma reparação simbólica e política, que marca o início de uma nova etapa para essas profissionais: a da reivindicação por direitos reais.
Mas é preciso deixar claro: esse reconhecimento, apesar de histórico, não resolve os problemas estruturais enfrentados pelas trancistas no cotidiano. A informalidade ainda é massiva. A precariedade também.
Trançar é estar horas seguidas em pé, muitas vezes sem pausas, sem ergonomia adequada, sem alimentação garantida. É adoecer com dores musculares, tendinites, varizes e não ter acesso a atendimento médico regular ou benefícios trabalhistas. É trabalhar em casa, dividindo o espaço com filhos pequenos, improvisando berços ao lado da cadeira de trança. É ser artista, psicóloga, educadora — tudo isso num ambiente que raramente é chamado de “profissional”.
Além do desgaste físico e emocional, existe o estigma. Por muito tempo, a atividade foi vista como “bico”, “coisa de quem não tem estudo”, ou “trabalho informal de periferia”. Esse racismo estrutural que desvaloriza o fazer preto, que silencia os saberes afrocentrados, também se manifesta nas ausências do Estado: não há linhas de financiamento específicas para esses negócios, nem políticas de formação técnica acessíveis, nem políticas de saúde do trabalho voltadas à realidade dessas mulheres.
O reconhecimento na CBO precisa ser mais que um selo burocrático. Ele deve abrir caminhos para políticas públicas efetivas: acesso facilitado à formalização, capacitação profissional gratuita, inclusão previdenciária, incentivos para empreendedoras da beleza negra, cuidados com a saúde física e mental dessas profissionais. Precisa ser prioridade nos planos municipais e estaduais de economia criativa, de cultura e de geração de renda.
Também é hora de rever o que se entende por “profissão”. O saber que vem da oralidade, da prática cotidiana e da vivência comunitária precisa ser valorizado tanto quanto aquele que vem da academia. Os saberes se der trancista são ensinados de mãe pra filha, de amiga pra amiga, nas vielas, nos quintais e nos salões. E isso é educação também. Isso é conhecimento.
Reconhecer as trancistas é reconhecer o valor da cultura afro-brasileira, a potência das periferias e a força das mulheres negras que movem o país com suas mãos. É legitimar que fazer trança é mais que estética — é identidade, resistência e construção de futuro.
Hoje, o nome das trancistas está, enfim, no papel. Mas a dignidade do trabalho vai além da formalidade. Exige investimento, cuidado e respeito. Porque trançar é trabalho. E como todo trabalho, merece ser protegido, valorizado e vivido com dignidade.
Por Iasmim Moreira
Opinião
CONAPIR 2025: É hora de romper a narrativa que autoriza a morte de pessoas negras – Por Luciane Reis

A Conferência Nacional de Igualdade Racial precisa confrontar o discurso oficial de segurança pública que desumaniza e extermina corpos negros no Brasil.
Enquanto o Brasil se prepara para a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR) de 2025, um tema precisa ocupar o centro do debate: como a narrativa oficial sobre segurança pública tem sustentado o genocídio da população negra, especialmente nas periferias urbanas.
Na Bahia, estado com a maior população negra do país, há mais de 30 anos se reforça um discurso de combate ao crime centrado em repressão e militarização. O resultado é conhecido: altíssimos índices de letalidade policial, sobretudo contra jovens negros. Mas o mais alarmante é que essa política vem acompanhada de uma comunicação que normaliza a violência estatal.
A linguagem da “guerra às drogas”, do “confronto” e do “bandido abatido” desumaniza as vítimas e esvazia o debate público. A sociedade é anestesiada por uma narrativa que transforma assassinatos em estatísticas e legitima a violência como forma de controle social.
O silêncio coletivo diante dessas mortes não é natural — ele é construído. É produto de uma comunicação estratégica que define quem deve ser temido, controlado ou eliminado. E os meios de comunicação, ao reproduzirem as versões oficiais sem questionamento, reforçam essa lógica.
A CONAPIR 2025 não pode ignorar esse pacto de silenciamento. Se pretende ser um marco real na promoção da igualdade racial, precisa enfrentar esse modelo de segurança e a forma como ele é comunicado. Isso significa:
- Exigir uma comunicação pública antirracista, que enfrente os estigmas históricos contra a população negra;
- Estabelecer protocolos responsáveis para a cobertura midiática de violência, que respeitem os direitos humanos;
- Apoiar a mídia negra e periférica, que já produz contra-narrativas fundamentais;
- Revisar as políticas de segurança com foco em cuidado, prevenção e reparação racial, e não em extermínio.
Segurança pública não é sinônimo de controle e morte. É direito à vida com dignidade, especialmente para aqueles que historicamente foram alvos do Estado.
Sem romper com essa narrativa que mata e silencia, não haverá igualdade possível.
A CONAPIR tem a chance de começar esse novo capítulo. Que não seja mais uma conferência de promessas — mas o início de uma reescrita coletiva da história, onde a vida negra não seja exceção, mas regra.
Luciane Reis é Comunicóloga, graduada em Publicidade e Propaganda pela UCSAL, especialista em Produção de Conteúdo para Educação e mestra em Desenvolvimento e Gestão pela UFBA e CEO Mercafro
-

 Opinião9 anos atrás
Opinião9 anos atrás“O incansável e sempre ativo pau grande e afetividade do homem negro” – Por Kauê Vieira
-

 Literatura9 anos atrás
Literatura9 anos atrásDavi Nunes e Bucala: uma literatura negra infantil feita para sentir e refletir
-

 Literatura8 anos atrás
Literatura8 anos atrásA lírica amorosa da poetisa Lívia Natália em “Dia bonito pra chover”! – Por Davi Nunes
-

 Formação7 anos atrás
Formação7 anos atrásConheça cinco pensadores africanos contemporâneos que valem a pena
-

 Audiovisual2 anos atrás
Audiovisual2 anos atrásFilme “Egúngún: a sabedoria ancestral da família Agboola” estreia no Cine Glauber Rocha
-

 Cultura2 anos atrás
Cultura2 anos atrásOrquestra Agbelas estreia em Salvador na festa de Iemanjá
-

 Música3 anos atrás
Música3 anos atrásEx-The Voice, soteropolitana Raissa Araújo lança clipe da música “Aquele Momento”
-

 Carnaval4 anos atrás
Carnaval4 anos atrásBloco Olodum libera venda do primeiro lote de abadás com kit promocional