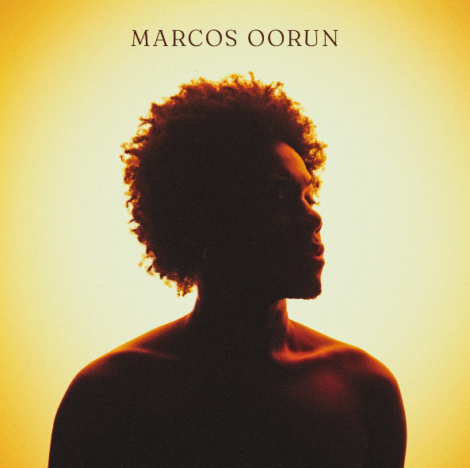Opinião
#Opinião: Dos trilhos de ferro para as linhas do caderno – Por Patrícia Bernardes Sousa

Caminhando pelas trilhas históricas onde passavam os trens do Subúrbio Ferroviário de Salvador, também encontramos trilhas que levam crianças, jovens e adultos ao universo da imaginação quando o assunto é literatura. Localizado na Cidade Baixa, o Parque São Bartolomeu reuniu no mês das Crianças com muita arte, cultura, literatura, teatro e música que ecoam mais forte que o barulho dos antigos trens que cortavam a geografia das ruas de uma cidade a beira da maré da Baiá de Todos os Santos.
Em sua maioria negra, cerca de 293 mil habitantes, segundo os dados do IBGE 2022 , a população do Subúrbio Ferroviário sentiu-se convidada a conhecer como e de que forma se constroem políticas públicas sócias para crianças que possam frequentar uma Biblioteca Comunitária como, por exemplo, a Biblioteca Meninas do Subúrbio e a Biblioteca Abdias Nascimento que atualmente abarca e abraça centenas de crianças e jovens negros que passam por lá diariamente.
O bairro de Alto de Coutos, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, abriga a Biblioteca Social Afro-indígena Meninas do Subúrbio. Fundado em março de 2022, o espaço educativo e cultural é voltado ao cuidado integral de mulheres e crianças através das práticas antirracistas e de combate ao machismo e é idealizado pela professora da rede municipal de ensino da capital baiana Dejanira Rainha. Criada em 2007, a Biblioteca Abdias do Nascimento localizada na Rua Bonfim, no bairro de Periperi foi pensada a partir das inquietações de jovens, moradores do subúrbio que sentiam a necessidade de um espaço no qual eles pudessem dialogar e discutir sobre questões ligadas a religião de matriz africana e cultura afro como um todo e tem como gestor Eduardo Oduduwa Nascimento dos Santos.
Dos trilhos de ferro que antes conduziam vagões lotados pela força de trabalho de mulheres e homens negros e negras , neste mês de Outubro os trilhos se comparavam às linhas dos cadernos que, com carvão na ponta do lápis , descreviam esperança num futuro melhor amparados nas Oficinas de Escrita Criativa ou na atenção com olhinhos encantados da batida do Rap e do Trap que aguardava a sua rima.
Nem sempre acompanhados pelos seus pais, a rotina da criança do Subúrbio Ferroviário presenciou o encantamento de conhecer como se pode contar a sua história a partir das suas próprias experiências de vida. Com cerca de 22 bairros e com 86% de seus moradores declarados pretos ou pardos , o lápis de cera, folhas de ofício, papel metro, acolhimento e escuta sensível, desenharam momentos de fascínio onde o que importava era apenas sorrir e colorir seus sonhos em uma folha branca.
Local sagrado e ponto de culto histórico por parte dos adeptos das religiões de matriz africana , o Parque São Bartolomeu pode sentir em suas instalações o vigor e a alegria das crianças que, em sua plenitude, corriam de um lado para o outro, para não perder o momento da rima nas Oficinas de Trap e Rap e nem o momento de contar a sua própria história em parágrafos curós e inocentes nas Oficinas de Escrita Criativa.
Trilhas de palavras que seguiam o caminho das linhas de caderno e também abraçavam com sorriso largo a apresentadora de Tv tão negra e cheia de encantos quanto cada criança preta que as abraçava. Trilhas de escrita e rima com representatividade numa Salvador de moradores da Cidade Baixa que no Outubro das Crianças pretas já podem chegar à Cidade Alta com novas histórias para contar. As trilhas das linhas do caderno não são maiores que o brilho da esperança em cada olhar das crianças.
O encanto ancestral do solo sagrado do Parque São Bartolomeu , confirmava a presença dos que ali se faziam presentes a cada nova jornada entre os andares, escadas e rampas daquele lugar. Música, dança e literatura pavimentam não mais os trilhos de ferro como no período colonial e da escravidão de direitos. Agora as crianças pretas do Subúrbio Ferroviário sabem que através das trilhas das linhas do seu próprio caderno, elas também podem contar a sua própria história. A educação inclusiva e antirracista trilham caminhos na primeira infância para romper “grilhões” de ferro que paralisavam histórias na vida adulta da população suburbana de Salvador.
Palco da Batalha de Pirajá em 1823, abrigo de escravos fugidos oriundos do Quilombo do Urubu em 1826, o Parque São Bartolomeu foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Cultural da Bahia ( IPAC-BA) e passou por requalificação urbana e ambiental em 2014. Cercada pelas Cachoeiras de Nanã, Oxum, Oxumarê, Tempo e Escorregadeira, o Parque São Bartolomeu resiste desde o seu reconhecimento em Junho de 2001, segundo Decreto Nº 7970.
A Festa Literária do Subúrbio Ferroviário (Flisu) não se finda como riacho sofrendo pela seca de suas águas no mês de Outubro e promete novas trilhas de saberes e novos trilhos de planejamento antirracista e insurgências criativas para os dias 18 e 19 de novembro, no Parque São Bartolomeu – Subúrbio Ferroviário de Salvador.
Patrícia Bernardes Sousa é jornalista, redatora e integra projetos de impacto social, letramento, educação e cultura.
Artigos
Parentalidades negras: Dói Gerar? – Por Aline Lisbôa

Aos 20 anos, ganhei minha primeira filha. Lembro que o meu maior desespero, naquele momento, não foi a maternidade em si, mas o medo de me tornar mais uma “guerreira”. Essa palavra, tantas vezes usada como elogio, sempre me soou como uma armadilha. “Guerreira” era o nome dado às mulheres negras que eu via à minha volta — sempre fortes, resilientes, mas quase nunca acolhidas. Mulheres que aprendiam cedo a engolir o cansaço e a transformar dor em sobrevivência.
Gerar uma menina preta, portanto, foi uma experiência marcada por aflições e esperança. Eu já tinha letramento racial suficiente para compreender que amar, dentro de um contexto desigual, iria me doer. Não porque o amor fosse escasso, mas porque amar uma criança negra em um país racista é um ato político — e, como todo ato político, carrega resistência e feridas.
Chorei e senti medo por longos nove meses. Idealizei a infância da minha filha e, inevitavelmente, revisitei as dores da minha. Cada contração parecia carregar também o peso das minhas histórias e de todas as meninas pretas que tiveram sua doçura interrompida cedo demais.
Mas a maternidade também me devolveu à criança viva que ainda existia dentro de mim. Quando minha filha sofreu seu primeiro episódio de violência racial, senti algo que nunca havia sentido antes: uma força ancestral que me empurrava a reagir. Era como se, naquele instante, eu fizesse as pazes com o silêncio imposto à menina que eu fui. Pela primeira vez, não calei. Escrevi, falei, denunciei. A maternidade, para mim, tornou-se um espaço de elaboração e cura coletiva.
A partir daí, passei a acreditar mais profundamente na potência transformadora do letramento racial nas famílias negras. É por meio dele que compreendemos o funcionamento do racismo estrutural e as relações desiguais entre pessoas negras e brancas — um sistema que atravessa as infâncias, molda oportunidades e define afetos. Educar uma criança negra sem esse entendimento é deixá-la vulnerável a uma violência que, muitas vezes, começa na escola, nas telas, ou no olhar do outro.
O letramento racial, portanto, não é um luxo intelectual: é uma ferramenta de sobrevivência e dignidade. Ele nos ajuda a nomear as dores, a identificar o racismo, e a responder a ele com consciência e estratégia — não mais com silêncio e culpa.
Lembro-me da matriarca da minha família, minha bisavó Celina. Mulher preta, sem estudos formais, mas dona de uma sabedoria que hoje reconheço como ancestral. Ela entendia, à sua maneira, o funcionamento do mundo e sabia como proteger seus filhos, netos e bisnetos. Sua forma de amor era também resistência. Celina não falava de “letramento racial”, mas vivia a prática da reexistência todos os dias — ensinando-nos a caminhar com dignidade mesmo quando o caminho era de pedras.
Hoje, quando olho para minha filha, percebo que gerar uma criança preta foi, acima de tudo, um ato revolucionário. Porque gerar, nesse corpo e nesse tempo, é também desafiar o projeto histórico que tentou nos apagar. E ser mãe/pai negros, com consciência racial, é transformar o medo em força, o silêncio em palavra, e o amor em luta.
Aline Lisbôa é mulher, negra, nordestina, mãe, educadora antirracista, consultora de diversidade, equidade e inclusão, pedagoga, psicopedagoga e pesquisadora, além de articulista e escritora. Seu livro “Quantos sim cabem em um não” está disponível AQUI.
Opinião
Trançar é trabalho: o reconhecimento oficial é vitória, mas a luta continua

Em junho de 2025, o Brasil deu um passo histórico: a profissão de trancista foi oficialmente reconhecida na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), sob o código 5193-15. Isso significa que o Estado, através do Ministério do Trabalho e Emprego, reconhece, de forma tardia, que trançar cabelos é ofício, é arte, é cuidado, é economia viva. E mais do que tudo isso: é trabalho.
O reconhecimento representa uma conquista fundamental para milhares de mulheres, em sua maioria negras, que sustentam suas casas e comunidades com as mãos, os fios e os saberes ancestrais que atravessam gerações. Trata-se de uma reparação simbólica e política, que marca o início de uma nova etapa para essas profissionais: a da reivindicação por direitos reais.
Mas é preciso deixar claro: esse reconhecimento, apesar de histórico, não resolve os problemas estruturais enfrentados pelas trancistas no cotidiano. A informalidade ainda é massiva. A precariedade também.
Trançar é estar horas seguidas em pé, muitas vezes sem pausas, sem ergonomia adequada, sem alimentação garantida. É adoecer com dores musculares, tendinites, varizes e não ter acesso a atendimento médico regular ou benefícios trabalhistas. É trabalhar em casa, dividindo o espaço com filhos pequenos, improvisando berços ao lado da cadeira de trança. É ser artista, psicóloga, educadora — tudo isso num ambiente que raramente é chamado de “profissional”.
Além do desgaste físico e emocional, existe o estigma. Por muito tempo, a atividade foi vista como “bico”, “coisa de quem não tem estudo”, ou “trabalho informal de periferia”. Esse racismo estrutural que desvaloriza o fazer preto, que silencia os saberes afrocentrados, também se manifesta nas ausências do Estado: não há linhas de financiamento específicas para esses negócios, nem políticas de formação técnica acessíveis, nem políticas de saúde do trabalho voltadas à realidade dessas mulheres.
O reconhecimento na CBO precisa ser mais que um selo burocrático. Ele deve abrir caminhos para políticas públicas efetivas: acesso facilitado à formalização, capacitação profissional gratuita, inclusão previdenciária, incentivos para empreendedoras da beleza negra, cuidados com a saúde física e mental dessas profissionais. Precisa ser prioridade nos planos municipais e estaduais de economia criativa, de cultura e de geração de renda.
Também é hora de rever o que se entende por “profissão”. O saber que vem da oralidade, da prática cotidiana e da vivência comunitária precisa ser valorizado tanto quanto aquele que vem da academia. Os saberes se der trancista são ensinados de mãe pra filha, de amiga pra amiga, nas vielas, nos quintais e nos salões. E isso é educação também. Isso é conhecimento.
Reconhecer as trancistas é reconhecer o valor da cultura afro-brasileira, a potência das periferias e a força das mulheres negras que movem o país com suas mãos. É legitimar que fazer trança é mais que estética — é identidade, resistência e construção de futuro.
Hoje, o nome das trancistas está, enfim, no papel. Mas a dignidade do trabalho vai além da formalidade. Exige investimento, cuidado e respeito. Porque trançar é trabalho. E como todo trabalho, merece ser protegido, valorizado e vivido com dignidade.
Por Iasmim Moreira
Opinião
CONAPIR 2025: É hora de romper a narrativa que autoriza a morte de pessoas negras – Por Luciane Reis

A Conferência Nacional de Igualdade Racial precisa confrontar o discurso oficial de segurança pública que desumaniza e extermina corpos negros no Brasil.
Enquanto o Brasil se prepara para a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CONAPIR) de 2025, um tema precisa ocupar o centro do debate: como a narrativa oficial sobre segurança pública tem sustentado o genocídio da população negra, especialmente nas periferias urbanas.
Na Bahia, estado com a maior população negra do país, há mais de 30 anos se reforça um discurso de combate ao crime centrado em repressão e militarização. O resultado é conhecido: altíssimos índices de letalidade policial, sobretudo contra jovens negros. Mas o mais alarmante é que essa política vem acompanhada de uma comunicação que normaliza a violência estatal.
A linguagem da “guerra às drogas”, do “confronto” e do “bandido abatido” desumaniza as vítimas e esvazia o debate público. A sociedade é anestesiada por uma narrativa que transforma assassinatos em estatísticas e legitima a violência como forma de controle social.
O silêncio coletivo diante dessas mortes não é natural — ele é construído. É produto de uma comunicação estratégica que define quem deve ser temido, controlado ou eliminado. E os meios de comunicação, ao reproduzirem as versões oficiais sem questionamento, reforçam essa lógica.
A CONAPIR 2025 não pode ignorar esse pacto de silenciamento. Se pretende ser um marco real na promoção da igualdade racial, precisa enfrentar esse modelo de segurança e a forma como ele é comunicado. Isso significa:
- Exigir uma comunicação pública antirracista, que enfrente os estigmas históricos contra a população negra;
- Estabelecer protocolos responsáveis para a cobertura midiática de violência, que respeitem os direitos humanos;
- Apoiar a mídia negra e periférica, que já produz contra-narrativas fundamentais;
- Revisar as políticas de segurança com foco em cuidado, prevenção e reparação racial, e não em extermínio.
Segurança pública não é sinônimo de controle e morte. É direito à vida com dignidade, especialmente para aqueles que historicamente foram alvos do Estado.
Sem romper com essa narrativa que mata e silencia, não haverá igualdade possível.
A CONAPIR tem a chance de começar esse novo capítulo. Que não seja mais uma conferência de promessas — mas o início de uma reescrita coletiva da história, onde a vida negra não seja exceção, mas regra.
Luciane Reis é Comunicóloga, graduada em Publicidade e Propaganda pela UCSAL, especialista em Produção de Conteúdo para Educação e mestra em Desenvolvimento e Gestão pela UFBA e CEO Mercafro
-

 Opinião9 anos atrás
Opinião9 anos atrás“O incansável e sempre ativo pau grande e afetividade do homem negro” – Por Kauê Vieira
-

 Literatura9 anos atrás
Literatura9 anos atrásDavi Nunes e Bucala: uma literatura negra infantil feita para sentir e refletir
-

 Literatura8 anos atrás
Literatura8 anos atrásA lírica amorosa da poetisa Lívia Natália em “Dia bonito pra chover”! – Por Davi Nunes
-

 Formação7 anos atrás
Formação7 anos atrásConheça cinco pensadores africanos contemporâneos que valem a pena
-

 Audiovisual2 anos atrás
Audiovisual2 anos atrásFilme “Egúngún: a sabedoria ancestral da família Agboola” estreia no Cine Glauber Rocha
-

 Cultura2 anos atrás
Cultura2 anos atrásOrquestra Agbelas estreia em Salvador na festa de Iemanjá
-

 Música3 anos atrás
Música3 anos atrásEx-The Voice, soteropolitana Raissa Araújo lança clipe da música “Aquele Momento”
-

 Carnaval4 anos atrás
Carnaval4 anos atrásBloco Olodum libera venda do primeiro lote de abadás com kit promocional